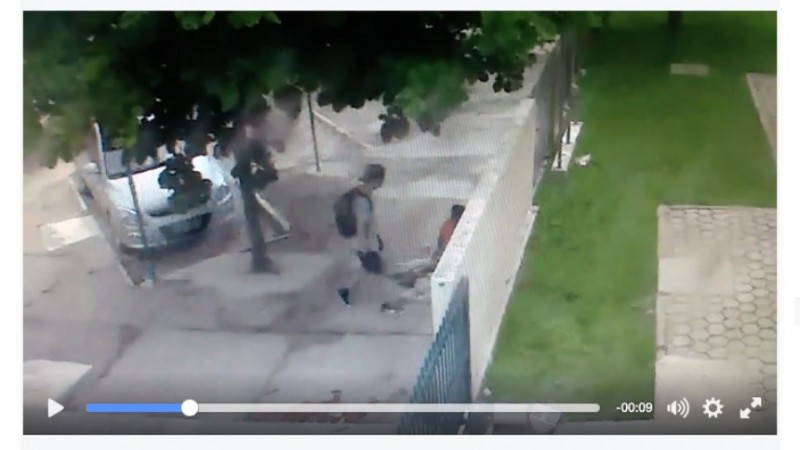A ciência e a maioria dos países já se convenceram que não há nada de errado em ser homossexual. Agora é a vez das religiões. Este século 21 assiste a uma abertura lenta, mas contínua, dos templos. O papa Francisco já pediu o acolhimento deles nas igrejas católicas. Denominações presbiterianas e metodistas celebram casamentos gays. Igrejas anglicanas e luteranas ordenam bispos com essa orientação. No Brasil, há um grande crescimento das chamadas igrejas inclusivas, seguidoras de uma teologia que prega que a diversidade humana é uma obra divina. A primeira surgiu em 1998. Atualmente no país existem mais de 30 diferentes denominações. Mas, por aqui, os evangélicos gays estão no meio do tiroteio que os cristãos tradicionais e a comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e Transgêneros) estabeleceram nos últimos anos, quando os homossexuais passaram a exigir direitos e proteção do Estado. Mesmo criticados pelas duas trincheiras, eles mostram que é possível uma comunhão entre fé e afeto.
Culto gay dispensa o “kit crente”
Todas as religiões do mundo exaltam a sinceridade e a fraternidade, mas poucas aplicam esses valores diante de pessoas que amam outras do mesmo sexo. Primeiro, as igrejas exigem que os gays ocultem e reneguem suas atrações. Depois, se eles não conseguem, são discriminados, punidos ou expulsos das igrejas. Religiosos adoram uma revelação divina, mas não desse tipo.
Lanna Holder e Rosania Rocha sentiram a provação na carne. Quando se apaixonaram, elas viviam em casamentos heterossexuais (Rosania com um pastor) e cuidando dos filhos. “Deus é um ser de amor, não é um juiz implacável. Fiquei anos fazendo jejuns, orações e terapias de regressão à infância para reverter meu desejo e não funcionou. Só quando a Rosania estava perto de mim eu estava bem. Isso foi um sinal divino”, relata Lanna.
Depois que se separaram de seus maridos, foram chamadas de “sem-vergonha”, “safadas” e “endemoniadas” por aqueles que eram seus irmãos de fé. Lanna não era mais chamada para pregar. Ninguém mais convidava a cantora Rosania para os louvores. Mas a via-crúcis delas teve também uma redenção: em 2011 o casal fundou em São Paulo a igreja Cidade de Refúgio, uma das denominações inclusivas que mais atraem principalmente os fiéis “convidados a se retirar” de outros templos.
A teologia inclusiva se apresenta como a única forma de os gays terem uma vida religiosa plena, mas até internamente essas igrejas sofrem dilemas: são santuários de gueto ou de transição? Esses templos recebem também heterossexuais, mas ali eles são minoria. Por outro lado, as grandes religiões estão adotando estratégias para não perder esses adeptos. Sobre o assunto, o historiador Leandro Karnal, especialista em religiões, dá a pista: "O futuro destas igrejas dependerá de oscilações do mercado da fé. Mas igrejas raramente fecham".
A longevidade do primeiro local de culto gay é prova disso. A Igreja da Comunidade Metropolitana surgiu em 1968 em Los Angeles (EUA), um ano antes do primeiro protesto LGBT do mundo, que aconteceu em Nova York, para reclamar da violência policial em bares gays. Hoje em dia, essa igreja tem 43 mil integrantes, com 222 congregações em 37 países, inclusive no Brasil.
A expansão, porém, não foi fácil. Fora as ameaças de morte e as agressões físicas aos fiéis, em todo o mundo 21 igrejas da denominação foram incendiadas ou destruídas. Não por nada no Brasil a maioria da igrejas inclusivas fica protegida em sobrelojas, galerias ou dentro de edifícios. Há sempre o temor da violência dos intolerantes.
AS RELIGIÕES E A HOMOSSEXUALIDADE
Descubra como cada uma das maiores crenças do mundo e do Brasil tratam a questão
A Igreja Cristã Contemporânea não adotou a discrição e por isso foi batizada pela imprensa carioca de "catedral gay". Inaugurada em 2015, ela ocupa toda uma esquina no bairro de Madureira, zona norte do Rio, onde antes existia um cinema e tem capacidade para 800 pessoas. É um cenário bem diferente do local anterior, um acanhado sobrado no bairro da Lapa, tradicional reduto homossexual no centro do Rio.
"Estamos abertos para as pessoas que se sentem excluídas. O próprio Jesus esteve ao lado delas, da mulher adúltera, do cego, do leproso. Ele veio ao mundo quebrar algumas leis", argumenta o pastor Fábio Inácio de Souza, líder da denominação, que é casado com outro pastor. A Contemporânea tem 3.000 seguidores em três Estados (São Paulo, Minas e Rio).
Em São Paulo, os templos inclusivos se ergueram na Santa Cecília, bairro de intensa vida gay. Foi lá que, em 1998, surgiu a primeira igreja LGBT do Brasil. A Acalanto foi fundada pelo religioso chileno Victor Orellana, criado em uma família metodista e ordenado pastor da Assembleia de Deus antes de sair do armário. Atualmente, o bairro é a "santa sede" de outras três denominações.
Uma delas é a Comunidade Nova Esperança, que foi fundada em 2004 e tem 17 unidades em todo o país. Seu primeiro local ficava em cima de um sex shop. "A gente conseguiu muitos fiéis deixando folhetos no balcão do nosso vizinho", lembra rindo o pastor Justino Oliveira da proximidade entre o sagrado e o profano por ali.
Hoje, tem até uma filial da igreja em Pisa, na Itália, onde vive um grande número de travestis brasileiros. Em São Paulo, também foi criado um ministério para atrair travestis e transexuais. A responsável para arrebanhar almas é a cabeleireira trans Jacque Chanel.
Simultaneamente ao crescimento das igrejas inclusivas, nas crenças tradicionais surgiram os programas para a chamada "cura gay". O caso do carioca Sérgio Viula é exemplar. Agora, ele se define como um "ex-ex-gay". Após uma infância com severa formação católica e experiências homossexuais na adolescência, ele virou evangélico aos 16 anos, ficou casado com uma amiga durante 14 anos, teve duas filhas, fez duas pós-graduações em teologia e atuou como pastor batista por nove anos.
Viula liderou por três anos o Moses, grupo que pretendia ajudar pessoas a deixarem práticas homossexuais. Eles distribuíam panfletos em paradas LGBT para atrair gays angustiados com sua orientação. Após esse tempo, abandonou o grupo afirmando que o trabalho não funcionava, só causava neurose nas pessoas, se assumiu gay e deixou a igreja. "Nós não fazíamos, mas tem igrejas que mantêm clínicas de recuperação, misturando viciados e homossexuais e aplicando as mesmas técnicas de abstinência e terapia ocupacional", relata Viula. "Isso só causa depressão e tentativas de suicídio", completa.
A ciência deixou de tratar a homossexualidade como doença desde a década de 1970. Antes, vários cientistas tentaram métodos como lobotomia, hipnose, extenuação física e até remédios indutores de vômito durante exibição de cenas de sexo entre homens. Em 1990, a OMS (Organização Mundial de Saúde) retirou da lista de enfermidades. Mas a partir daí muitas igrejas começam a tratar a questão como um problema da alma, com retiros, orações e súplicas.
Tradicionalmente, as igrejas ensinam que os convidados para a festa do céu são os celibatários e heterossexuais (monogâmicos, de preferência). Para os gays, está reservado um lugar no quinto dos infernos. A única solução possível é abraçar o poder místico de Deus e renunciar a todo desejo sexual (pelo menos, aquele que eles acham natural). Se a fé move montanhas, ela não muda o desejo físico de uma pessoa - só o comportamento externo.
"A moral católica é estabelecida por homens celibatários que vestem roupas coloridas e túnicas brilhantes de vermelho púrpura dos cardeais, usam anéis enormes com ouro e rubis e, sem mulheres ou filhos, estabelecem o que seria o padrão da masculinidade e das famílias ditas normais", ironiza Karnal.
O revelador é que a homossexualidade é anterior ao monoteísmo, à Bíblia e a Jesus. Os judeus, quando começaram as escrituras sagradas, criticaram as crenças politeístas estabelecidas na Babilônia e no Egito, onde foram levados como escravos. Vários deuses desses impérios eram andrógenos ou bissexuais. A homossexualidade era até ritualística em tradições da Europa e do Oriente Médio, antes que o Deus onipotente e onipresente entrasse na concorrência de corações e mentes. São justamente esses trechos da Bíblia que descrevem os ritos pagãos que os líderes fundamentalistas usam em suas cruzadas.
O instituto de pesquisa norte-americano Barna Group, fundado por cristãos, fez um levantamento com jovens de 16 a 29 anos que não frequentam igreja. A pergunta era: qual é a primeira palavra que vem à mente sobre as igrejas evangélicas? "Antigay" foi a resposta de 91% deles. A porcentagem não foi muito diferente entre jovens crentes: 80% responderam o mesmo.
No Brasil, o cenário se parece, afinal, a polêmica é decalcada do modelo norte-americano, com fundamentalistas cristãos de um lado e militantes LGBT de outro, em uma batalha moral, política e comercial. Os pastores tradicionalistas fazem uma interpretação literal da Bíblia e citam trechos do Gênesis, Levítico, Romanos e Coríntios para condenar os gays. Também classificam como "contorcionismo teológico", "promiscuidade simbólica" ou "sincretismo moral" as teorias inclusivas.
"O que muda o discurso religioso são os avanços sociais. A igreja se vê obrigada a se adaptar ou ela morre", define o reverendo Cristiano Valério, líder da filial brasileira da primeira igreja inclusiva do mundo. Os religiosos revisionistas criticam a leitura ao pé da letra do livro sagrado e afirmam que as proibições devem ser contextualizadas, afinal, algumas passagens foram escritas há mais de 3.000 anos. O Levítico, por exemplo, proíbe a homossexualidade junto com ingestão de carne de porco, ficar bêbado e ser médium.
 Os inclusivos focam em trechos mais solidários da Bíblia, como o "amai-vos uns aos outros". Sua leitura se aproxima da Teologia da Libertação, que utiliza o Evangelho como instrumento de justiça social, resgate da dignidade e da vivência em comunidade. "Creio que os inclusivistas trazem uma nova visão do ensinamento bíblico e de boa fé. Ninguém pode negar que entre pessoas do mesmo sexo possa haver amor. Se há amor, aí há algo de Deus, que se autodefiniu como amor", afirma Leonardo Boff, que em sua época de frade franciscano ajudou na criação da Teologia da Libertação.
Os inclusivos focam em trechos mais solidários da Bíblia, como o "amai-vos uns aos outros". Sua leitura se aproxima da Teologia da Libertação, que utiliza o Evangelho como instrumento de justiça social, resgate da dignidade e da vivência em comunidade. "Creio que os inclusivistas trazem uma nova visão do ensinamento bíblico e de boa fé. Ninguém pode negar que entre pessoas do mesmo sexo possa haver amor. Se há amor, aí há algo de Deus, que se autodefiniu como amor", afirma Leonardo Boff, que em sua época de frade franciscano ajudou na criação da Teologia da Libertação.
A fé é a reação do homem diante do mistério, do inexplicável no mundo. E, apesar de tão humana quanto a orientação de ser hetero, a homossexualidade não tem uma explicação única e infalível. Um conjunto de fatores genéticos, psicológicos e sociais influenciam, mas não há consenso sobre qual é o mais importante. A razão, porém, não interessa para a questão. O que importa é a pacificação e reconciliação das almas. "Eu falo como uma miss: quero a paz no mundo", se diverte Edvaldo Batista, que costuma se vestir de drag queen nas cerimônias da igreja Metropolitana para deixar seus paroquianos em estado de graça.
O grau de abertura das igrejas em relação ao público LGBT é medido pelas seguintes ações: aceitar o fiel, formar grupos de acolhida, celebrar casamentos e ordenar líderes religiosos. A Igreja Católica deu o primeiro passo, timidamente. No Brasil, há grupos como o Diversidade Católica, que aconselha o devoto e sua família em conflito. Alguns encontros são feitos dentro de igrejas, mas não é uma iniciativa oficial.
O padre e o teólogo José Trasferetti queria criar uma pastoral para o público LGBT, como há pastorais para presos, migrantes, operários e tantos outros grupos. A proposta ficou no vazio. "A evangelização, a educação na fé, o acolhimento nas igrejas deve ser obra de todos. Ninguém pode ser discriminado por razões de orientação sexual", opina o padre.
Além das igrejas que já nasceram inclusivas, denominações anglicanas e luteranas foram as que mais avançaram, ordenando pastores e bispos assumidos. A mudança gerou cisões dentro dessas igrejas, mas a divisão é a dinâmica da fé cristã desde o tempo dos 12 apóstolos.
"Eu vejo uma revolução na fé. Nós estamos entrando em uma terceira reforma do cristianismo", se entusiama José Mário Brito. Ele foi seminarista para ser padre católico, mas se afastou da religião após se assumir. Sentindo falta da mensagem divina, entrou na igreja evangélica Nova Esperança e canta na banda do templo ao lado de seu namorado.
O livro "Entre a Cruz e o Arco-Íris", da jornalista Marília de Camargo César, retrata o mais recente conflito dentro da religião, contando várias histórias tocantes de cristãos que lutaram contra sua orientação sexual, com jejuns, orações e vida missionária, mas que, ao assumir a homoafetividade, foram rejeitados e criticados por "não ter se esforçado para mudar". Marília considera que as igrejas se movem lentamente no assunto. "Um pastor amigo, um tradicional, que foi fazer um curso em São Francisco (EUA), me disse que ali as igrejas que não aceitam irmãos homossexuais não sobrevivem", conta Marília.
Quando o mercado da fé terá esse cenário em outros países, como o Brasil? Só Deus sabe.
(Repórter do UOL Notícias. Não tem religião e não é gay, mas acha tudo isso divino e maravilhoso, em todos os sentidos.)